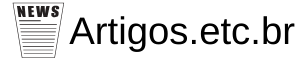Crise de Identidade(s): analisando Dorian Gray e Jacobina.
Roberto Rodrigues Campos.
Universidade do Estado da Bahia – UNEB/ BA.
RESUMO: O presente trabalho visa aprofundar o conhecimento sobre o(s) conceito(s) de Identidade(s) e sua importância para o processo de autoconhecimento, bem como analisar as obras O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde e O Espelho, de Machado de Assis, e o longa-metragem Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton, a fim de salientar a existência desse tema tão polêmico e duvidoso tal como sua coexistência ficção-realidade obra/mundo, através dos mecanismos de análise textual e comparativa, contendo fundamentos baseados, principalmente, no teórico Stuart Hall.
PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Juventude; Dorian Gray; Jacobina; Alice.
INTRODUÇÃO
O Retrato de Dorian Gray e O Espelho mostram os perigos de perseguir um ideal de auto-exclusão de todas as complexidades além das divisões de uma psique viva. Jung defende a idéia de que a psique pode ser dividia em o consciente e o inconsciente, sendo que, no caso do inconsciente, ainda há uma subdivisão em inconsciente pessoal e coletivo. Psique, então, é conceito dado ao self, ou seja, “si-mesmo", que se relaciona a mente, a alma e o ego. Ou seja, são tipos de texto literário diferentes abordando a mesma coisa: crise na alma e na identidade humana.
O irlandês Oscar Wilde foi um poeta, romancista e dramaturgo fabuloso, nascido na Inglaterra em 1854, vivendo apenas 46 anos. Considerado excêntrico, ele era o líder do movimento estético que defendia a "arte pela arte" e fora preso por dois anos com trabalhos forçados por práticas homossexuais. Dentre vários trabalhos e várias peças que escrevera, como por exemplo, “A Importância de Ser Honesto” (The Importance of Being Ernest), Wilde destaca-se em seu único romance, hoje mundialmente conhecido – O Retrato de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray).
No romance O Retrato de Dorian Gray, Wilde complica a sua própria noção de identidade através da arte, mostrando o seu perigoso e irresponsável lado. Ele o cria baseando-se numa espécie de tríade. Ao invés de simplesmente concentrar-se na dicotomia entre o autor / escritor, ele parte para as três diferentes posições de sujeito: o artista (ou o escritor), o modelo (ou personagem), e as audiências (ou o leitor). E Wilde simbolicamente representa essas três posições através de seus personagens principais: Basil Hallward, Dorian Gray e Lord Henry Wotton. O retrato é pintado por Basil Hallward, inspirado por Dorian Gray, e observados por Lord Henry Wotton, cujas opiniões permitem Basil completar o quadro: o pintor, que produz a tela, o modelo, que empresta sua beleza, e o perito, que interpreta e, portanto, conclui o que deve ser visto. É sobre esse triangulo artístico que a estória se desenrola.
Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), um dos até então mais admirados escritores brasileiros, é autor de romances famosos no mundo inteiro como Dom Casmurro, por exemplo. É, no entanto, através de seus contos que ele sintetiza suas principais qualidades de escritor, como o artifício da ironia, que não só o revelava como alguém descrente da realidade, como alguém de postura literária invejável. Em seu conto O Espelho, Machado conta sobre um homem, Jacobina, que interrompe a conversa de quatro amigos para dar sua opinião a respeito da alma humana. Essa opinião desenrola-se numa estória que acontecera com o próprio Jacobina quando jovem onde, após ter conquistado o posto de alferes, percebe-se sozinho, até que um dia ele veste seu uniforme de alferes e olha-se no espelho, encontrando assim o outro lado de sua alma, retirando-o, por conseguinte, da “solidão”.
Após planar sobre essa duas obras renomadas, este trabalho busca entender o(s) conceito(s) de identidade(s), baseando-se, primordialmente, nas idéias defendidas por Stuart Hall, e, a partir daí, discutir a questão da identidade nas obras de Machado de Assis e Oscar Wilde, bem como no filme Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton.
O ESPELHO
Um grupo de amigos reúne-se para discutir sobre coisas metafísicas. Junto a este grupo, encontra-se um homem calado, até que o assunto “alma humana” vem à tona, fazendo o até então silencioso homem afirmar que não existe uma alma humana, mas duas. Causando espanto nos demais homens, ele continua sua linha de raciocínio contando-lhes uma estória na qual ele mesmo é o protagonista. Seu nome: Jacobina.
Jacobina conta ao grupo que, aos 25 anos, fora nomeado alferes da Guarda Nacional. Tornou-se o centro das atenções, por pertencer a uma família pobre. A atenção foi tamanha que ele passou a ser conhecido como Senhor Alferes. Um belo dia, sua tia Marcolina convidou-o para passar alguns dias em sua casa. Como a tia também não era rica, pediu-lhe que fosse usando a farda de alferes. Toda orgulhosa, presenteou-o com um grande espelho.
Ao se olhar no espelho, Jacobina não conseguia mais se enxergar; enxergava, somente, um homem trajado de alferes da Guarda Nacional. Sentira que ele, Jacobina, se fora, deixando a maquiagem de alferes em seu lugar. Por mais que pedisse à tia Marcolina que lhe chamasse de Joãozinho, como fazia antes da promoção, a tia só o chamava de Senhor Alferes.
Por fim, ele encontrou-se sozinho numa manhã. Após, então, alguns dias, durante todo aquele silêncio no qual ele se encontrava, ele resolveu olhar-se, de novo, no espelho – fazia dias que ele evitava isso - a fim de encontrar-se. Jacobina se vê como costumava se ver, e, como teste, resolveu por a farda de alferes e olhar-se no espelho. E o conto termina com os quatro amigos dando-se conta de que o narrador, Jacobina, já não mais estava lá na sala, entre eles.
O RETRATO DE DORIAN GRAY
Um pintor, Basil Hallward, pinta um retrato de um belo jovem chamado Dorian Gray. Durante a última sessão de pintura, Dorian, que tem até então fora completamente inocente, tanto em relação a sua beleza e quanto ao mundo, encontra-se amigo de Lord Henry Wotton, que abre seus olhos para a natureza passageira da sua beleza e diz que ele deve experimentar a vida ao máximo, pois um dia irá envelhecer. Dada a conclusão do retrato, Dorian, após reconhecer-se belo demais e amedrontado por um dia perder sua beleza, deseja em voz alta que a pintura envelhecesse em seu lugar.
Devido à influência de Lord Henry, Dorian sai à procura de paixões, ou melhor, de luxúria, e se apaixona por uma atriz talentosa, Sibyl Vane. Quando ela se apaixona por ele, porém, ela percebe a falsidade de sua vida, que tudo o que importava para ela e sua família, antes de conhecer Dorian, era apenas dinheiro. No meio desta crise, surge uma oportunidade de Dorian, Lord Henry e Basil a assistirem numa de suas apresentações, a qual fracassa. Dorian, então completamente decepcionado, perde todo o respeito e amor por ela, e rompe o noivado. Ele vai para casa para descobrir que a pintura se tornou um pouco mais cruel para o futuro, e no dia seguinte, só depois de resolver voltar e se casar com ela, independentemente, descobre que Sibyl se matou. Como o quadro começa a preenchê-lo com medo, Dorian o tranca em uma sala antiga de casa.
Dorian encontra certa alegria, ao longo dos anos seguintes, em cometer atos pecaminosos e prazerosos, e observando a mudança do retrato, ele vê que não perde nada de sua beleza ou juventude, mas a sua imagem pintada sim fica velha e feia. Ele entra constantemente em contato com Lord Henry, que alimenta sua opinião sobre um novo hedonismo, a busca de prazer, não da moralidade que deve assumir para o mundo. Anos se passam e Basil procura Dorian em sua casa. Ao ser recebido, percebe que o quadro não se encontra mais a mostra como antes e começa a questionar Dorian, que, por não tê-lo visto por um longo tempo, finalmente, lhe mostra o que aconteceu com seu retrato. Basil fica horrorizado e tenta fazê-lo arrepender-se, mas Dorian acaba por matá-lo.
Dorian se torna cada vez mais ansioso e temeroso que alguém possa descobrir seu segredo. James, o irmão da falecida Sibyl, foi à procura dele dezoito anos depois da morte de sua irmã. Ele encontra Dorian, joga na sua cara que Sibyl o considerava seu Príncipe Encantado e que ele a largou e a fez se matar, o que significava Dorian ser o culpado de sua morte. Assim sendo, James ataca Dorian, mas não obtêm sucesso. Dorian deixa-o ir, mas antes lhe mostra que não mudara nada em tanto tempo. Dias depois, um homem é acidentalmente baleado e morto, e Dorian descobre que este homem era James. Ele decide que a partir deste momento em diante, ele vai ser bom, e fazer isso, ele deve se livrar da ansiedade e do medo constante de que ele está sentindo, ou seja, ele deve destruir o retrato. Então ele apunhala o retrato. Quando a polícia chega, vê o retrato de como era quando era novo, e um homem horrível, velho e desfigurado estirado ao chão, morto.
IDENTIDADE(S)
O que é que torna alguém bonito? É tudo apenas aparência, como se devesse existir uma imagem perfeita em tudo? E ainda porque é que as pessoas quando encontram outra pessoa bonita, passam a admirá-la e não prestam mais atenção aos outros? Deve-se realmente ter que ser bonito para ser notado, para ter sucesso? Perguntas comuns para aqueles que se olham no espelho e se acham feios. Reposta simples? Sim! Porque ser bonito é tudo!
Para Oscar Wilde:
“[...] a Beleza é uma forma de Inspiração – maior, sem dúvida, que a inspiração, pois não necessita explicar-se. É um dos grandes fatos do mundo, como a luz do sol ou a primavera, ou o reflexo nas águas escuras daquele escudo prateado a que chamamos lua. Não pode ser questionada. Tem seu direito divino de soberania. Torna príncipes todos aqueles a têm. [...] As pessoas dizem ás vezes que a Beleza é apenas superficial. Pode ser que seja. Mas, pelo menos, não é tão superficial quanto o Pensamento. [...] a Beleza é a maravilha das maravilhas. São apenas as pessoas superficiais que não julgam pelas aparências. O verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível.” (WILDE, 2009, p.44-45).
Wilde acredita que a Beleza é capaz de tornar alguém maior que tudo e todos, como se ela fosse o regimento do que é e/ou está certo ser ou não. Pois bem, a Beleza então pode ser dita como prazerosa, sentimental, “a maravilha das maravilhas” (WILDE, 2009, p.52). Para enfatizar mais a idéia de Wilde, observe o que se encontra no Dicionário Escolar de Filosofia:
“Harmonia, proporção, equilíbrio, graciosidade, e elegância são alguns exemplos de propriedades estéticas [...], mas a beleza é a propriedade estética mais central, para a qual contribuem propriedades como as anteriores. Ao contrário do que por vezes se pensa, não foram muitos os filósofos que procuraram identificar as características que algo deve ter para se poder chamar "belo". [...]. Apesar de cada um deles enfatizar mais uma ou outra característica, todos acabam por convergir na idéia de que a beleza é algo 1) que tem um valor positivo; 2) que nos agrada ou proporciona prazer; 3) que é inspirador e motivador; 4) cuja apreciação depende da percepção ou de alguma forma de contacto com o que é objecto apreciação e 5) cuja apreciação é independente de qualquer interesse teórico ou prático, exprimindo-se através de um de juízo próprio, o juízo estético”. (ALMEIDA e MURCHO, 2009).
As prioridades para a beleza estão mudando com o tempo – para as meninas é muito mais importante do que para os meninos (não é realmente uma surpresa). O sexo feminino – machismo a parte – gosta de embelezar a aparência externa, gosta de colocar coisas no rosto, cabelos e unhas, ama jóias e cores brilhantes. Olhe Cleópatra, que para mostrar que era uma grande rainha e uma bela mulher, andava enfeitada como se fosse uma árvore de Natal ambulante. E um homem, apenas um homem fez com que essa singularidade feminina fosse compartilhada, usufruída e levada a sério pela classe masculina: Narciso – e olhe que ele não é nem real.
Segundo Vasconcellos(1998):
“Os mitos gregos estão por toda parte ainda hoje. Estas narrativas, que um dia povoaram não só a imaginação como também a vida cotidiana de todo um povo, perduraram no tempo e ainda hoje fascinam escritores, cineastas, escultores, psicólogos, antropólogos, etc. etc. Pode-se fazer delas o uso mais variado [...]”. (VASCONCELOS, 1998, p.8)
Existem diversas versões sobre o mito de Narciso, mas todas elas referindo-o com o auto-admirador que, na Mitologia Grega, é famoso pela sua inigualável e entorpecente beleza. O psicanalista e pesquisador Mário Quilici (1999) sugere que o nome Narciso, etimologicamente falando, significa entorpecimento, torpor. No narcisismo busca-se satisfação pessoal sobre a realização dos objetivos sociais, e conformidade aos valores sociais. Certo grau de narcisismo é comum em muitas pessoas, mas ele se torna patológico quando o narcisista não tem empatia normal e ele acaba utilizando-se outros impiedosamente para seus próprios fins; derivam sua auto-adoração de suas capacidades intelectuais e realizações, focando no corpo, buscando a beleza, o físico perfeito e a conquista sexual. Teoricamente falando, de acordo com Quilici(1999):
“O que o jovem Narciso amou foi a sua alma. É isso que se deseja dizer quando se fala no reflexo. Ele jamais pôde abandonar as águas paradas da fonte. Narciso cometeu o suicídio porque ao recusar-se a abandonar a fonte, deixou de comer (receber). O suicídio é explicito. O suicídio foi motivado pela desilusão: a imagem querida e amada que surge no reflexo não possuía equivalência no mundo real e objetivo. Assim são os narcisistas: pessoas perdidas em si mesmas. Não se trata de se acharem lindos apenas. Ser lindo e bonito é apenas uma parte do processo patológico desses indivíduos. [...] Seu estado narcísico é uma defesa contra sua dor primeira. É por isso que o narcisista não suporta ser contrariado e nem aceita que lhe digam que tem defeitos. [...] Como todo ditador que se preze, o narcisista é alguém que precisa de público, daqueles que o admirem de forma incondicional e irrestrita. É um dependente”. (QUILICI, 1999).
O credo ao esteticismo literário estava muito em moda nos tempos de Oscar Wilde – Era Vitoriana – e ele abraçou sua filosofia sobre a importância central da arte na vida. O movimento estético englobou as artes visuais da literatura. Assim, o narcisismo paira majestosamente por essa época tão revolucionária e retrograda ao mesmo tempo, mas não pára nela simplesmente, pelo contrário, segue pelos dias de hoje rumo ao amanhã.
Observe e tente, então, seguir esta linha de raciocínio: Casal A é considerado esteticamente belo, enquanto o casal B não. Estes sujeitos se separam pela concepção de beleza. O Casal A concebe um sujeito C e o casal B concebe um sujeito D, e assim, produzem estes sujeitos com base nas suas concepções. Supondo que os sujeitos C e D não se sintam adequados às concepções de seus pais, eles então produzem uma nova concepção de beleza, uma nova idéia de um sujeito belo, e assim segue uma produção infinita e eclética de sujeitos através do tempo.
A fim de entender melhor tal processo de produção de sujeitos, que lhes permitem apresentar-se ao tempo em que vivem e reconhecer-se como alguém único, a Psicologia estabeleceu o conceito de identidade.
Segundo Almeida e Murcho (2009), quanto se faz referência à identidade como formação e definição de um sujeito ao longo do tempo, dá-se o nome de identidade pessoal:
“As pessoas persistem no tempo: existem em muitos momentos diferentes. Por exemplo, é comum considerar-se que eu sou hoje a mesma pessoa que era quando tinha apenas dois anos de idade. Esta identidade aparente levanta, contudo, problemas filosóficos óbvios, pois não tenho hoje quase nenhuma das propriedades mais salientes que tinha aos dois meses. O que faz cada um de nós ser a mesma pessoa ao longo do tempo, apesar das mudanças físicas e psicológicas que se vão acumulando? Uma possibilidade é que a nossa identidade ao longo do tempo se deva essencialmente à continuidade corporal: ao facto de termos o mesmo corpo ao longo de toda a vida. Outra possibilidade é a identidade pessoal consistir apenas na continuidade psicológica: no facto de termos estados mentais (como memórias, intenções, crenças e planos) que se mantêm ao longo do tempo ou que se relacionam causalmente entre si.” (ALMEIDA e MURCHO, 2009).
De acordo com Brandão (1986), o termo identidade esclarece a consciência da posse de um eu, de uma realidade pessoal que torna cada sujeito único diante de seu próprio eu e dos outros eus. Para Erikson (1987), o termo identidade abrange muito do que Brandão entende por eu, e acrescenta que esse termo “se refere, na maioria das vezes, a algo ruidosamente demonstrativo, a uma ‘busca’ mais ou menos desesperada” (1987, p.17) por uma solução para algo que esteja errado conosco ou algo que está faltando para nos completar, ou, neste caso, para completar nossa “identidade,quando ficamos cônscios do fato de que, sem dúvida, temos uma” (1987, p.17).
Stuart Hall, uma das figuras mais importantes da área de estudos sociais, afirma que “a questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social” (HALL, 2006). Ele ainda argumenta que “em essência [...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado.” (HALL, 2006, p.1).
Hall atribui três diferentes concepções para a idéia de identidade, analisando três tipos de sujeitos distintos: o sujeito do Iluminismo, o sociológico e o pós-moderno:
“O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo centro consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou “idêntico” a ele – ao longo da existência do indivíduo. [...] A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, mas era formado na relação com ‘outras pessoas importantes para ele’, que mediavam para os sujeitos os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava. [...] O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem. [...] O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”. (HALL, 2006, p.10-13).
Pendendo mais para a idéia do sujeito social, Hall argumenta que as identidades estão se alterando de forma que sempre estarão em fixa mutação em relação às transformações do mundo contemporâneo:
“Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados”. (HALL, 2006, p. 9)
A partir disso, Hall evoca a idéia de que os sujeitos dão início a uma “crise de identidade”, uma vez o que se considera padrão, não mais se encontra solidificado.
CRISE DE IDENTIDADE(S)
Jung diz:
“O inconsciente [...] é tudo, [...] é objetividade ampla como o mundo e aberta ao mundo. Eu sou o objeto de todos os sujeitos, numa total inversão de minha consciência habitual, em que sempre sou o sujeito que tem objetos. Lá eu estou na mais direta ligação com o mundo, de forma que facilmente esqueço quem sou na realidade. ‘Perdido em si mesmo’ é uma boa expressão para caracterizar este estado. Este si-mesmo, porém, é o mundo, ou melhor, um mundo, se uma consciência pudesse vê-lo. Por isso, devemos saber quem somos.” (JUNG, 1999, p.32).
O impacto de um conflito sobre uma identidade e/ou uma cultura dá-se pela forma de crise(s) de identidade(s). O termo “crise de identidade" é hoje aplicado aleatoriamente para quase qualquer perda de identidade ou auto-imagem, independentemente do fato de a imagem se aplicar a um adolescente ou um profissional de meia-idade. Erik Erikson, pioneiro dessa área de estudo, aplicou esse termo a uma ampla gama de fenômenos psicossociais, principalmente aflorados na adolescência.
“A menos que seja prematura e desastrosamente provocada [...], a crise de identidade não é viável antes do começo, tanto quanto não é dispensável após o final da adolescência, quando o corpo, agora completamente desenvolvido, cresce harmoniosamente numa aparência individual. [...] A crise da juventude é também a crise de uma geração e da solidez ideológica da sua sociedade; também existe uma complementaridade de identidade e ideologia”. (ERIKSON, 1987, p.310-311).
Para Erikson, a(s) "crise(s) de identidade(s)", não é/são só uma perda de identidade(s), mas mais corretamente uma perda de identidade do ego que surge como uma fase normativa no ciclo da vida humana. E, assim sendo, uma ocorrência clássica de crise de identidade, em função inclusive de seu caráter implacável, e que pode ser vivida com mais ou menos sofrimento, é a adolescência.
As pessoas citam, por exemplo, Sócrates e Shakespeare, muitas vezes, sem saber ao menos que foram eles os autores das frases. Quando alguém diz “Só sei que nada sei!”, ao contrário de Sócrates, quer simplesmente afirmar que não tem conhecimento sobre um determinado assunto, ou muitas vezes quer apenas abster-se de um interrogatório. O sábio Sócrates posicionou-se no lugar de um aprendiz.
Ficando claro que a identidade não se limita em sua construção, estando sempre em processo de transformação contínua, pode-se entender por crise de identidade, então, um conflito também constante da mesma e/ou de outras identidades de um ou mais indivíduos, em qualquer tempo, a qualquer momento.
ALFERES ATRAVÉS DO ESPELHO
Quando alguém constrói uma afirmação, esse alguém não a constrói do nada; há um longo tempo de observação, análise, formulação de idéias, e, por fim, a construção da afirmação. “Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro”(ASSIS, 2009, p.20). É essa afirmação que quebra o silêncio de Jacobina. Por muito tempo ele manteve-se em silêncio, por muito tempo ele refletiu sobre si, mas só ali, naquela sala, para aqueles quatro amigos que conversavam sem parar, que Jacobina pode expressar suas conclusões.
Aos 25 anos, o jovem Jacobina fora nomeado alferes da Guarda Nacional. Vindo de família muito pobre, tal fato tornou-se motivo de orgulho. Até então, o personagem principal possui domínio total de si. Encontra-se recheado de sentimentos como orgulho, alegria, contentamento, mas também encontra-se coberto de inveja e despeito; afinal, ele adquirira um status para o qual estaria muito aquém. Assim sendo, passou a ser conhecido como “o seu alferes” (ASSIS, 2009, p.22).
Sua primeira crise de identidade começou a aparecer quando ele percebeu que nunca mais deixou de ser o alferes. Esse tipo de crise é bem comum, nos dias de hoje. Por exemplo, quando Ana Simões (nome fictício) exerce a função de docente, passa a ser conhecida em qualquer lugar como a Pró Ana, e se for professora primária, Tia Ana. Perdera o sobrenome e ganhara um título. Entretanto, essa perda de identidade não se resume tão somente a ela: seu cônjuge, Marcos Simões (nome também fictício), por conseqüência, deixa de ser Marcos Simões e passa a ser o marido de Pró Ana.
E assim acontece com Jacobina. Ele vai passar um tempo com sua tia, e sua profissão de alferes é evocada constantemente como sua nova identidade. O personagem até insiste em ser chamado de Joãozinho, como era conhecido antes, mas só de alferes é tratado.
A segunda crise dá-se no momento em que Jacobina descobre-se só. Por mais que ele se olhasse no grande espelho que ganhara de sua tia, só enxergava o esboço de um homem trajando a farda de alferes. Numa manhã, ele percebe que não há ninguém em casa. Nessa solidão, ele começa a analisar sua vida, sua alma, sua concepção de ser. Quando ele resolve olhar-se no espelho, depois de tanto tempo sem fazê-lo, ele começa a ver o esboço de um homem, o esboço do antigo Joãozinho, e então resolve pôr novamente a farda de alferes e se olhar no espelho. Finalmente, ele percebe que se encontrou, percebe que juntara as duas almas: era Jacobina vestido de Alferes.
DORIAN NO PAÍS DA JUVENTUDE
No início do romance, Dorian Gray existe como algo de um ideal: ele é o padrão da juventude e da beleza masculina. Como tal, ele cativa a imaginação de Basil Hallward, um pintor, e Lord Henry Wotton, um nobre que imagina transformar Dorian em um buscador incessante de prazer. Dorian é extremamente vaidoso e se convence de que, no decurso de uma breve conversa com Lord Henry, que o sua mais saliente características, sua juventude e atratividade física estão sempre a diminuir. O pensamento de acordar um dia sem esses atributos envia Dorian a pirar: ele amaldiçoa a sua sorte e promete a sua alma, se pudesse viver sem ter de suportar a carga física do envelhecimento, o pecado. Ele deseja ser tão jovem e lindo como o retrato que tem pintado dele por Basil, e ele deseja que o retrato envelheça em seu lugar.
Dos três, Dorian é aquele cujo investimento na imagem é absoluto, em reconhecer limite algum entre imaginação e realidade, desejo e identidade, o “eu” e o “outro”. Ambos, Basil e Lord Henry, querem ter o quadro. Dorian quer ser a imagem a imagem do quadro. A razão para esse desejo forte o suficiente para dobrar a realidade é que Dorian vê na pintura o seu próprio “eu” ideal: uma imagem do príncipe encantado, um personagem de conto de fadas impermeável à mudança, mutabilidade, envelhecimento e morte. Dorian não consegue ser sofisticado o bastante entender a mensagem estética que um quadro oferece ao seu pintor e ao seu admirador; Dorian "lê" apenas a imagem como uma representação do homem que ele quer ser. E assim, ele se esforça para se tornar esse homem, não percebendo que no processo ele deixa de ser um homem em tudo.
Há um consenso de que existe uma troca entre Dorian e seu retrato: a alma. A alma acaba sendo perdida por Dorian quando ele se torna sua própria pintura, enquanto que seu o retrato assume a carga de seu corpo:
“– Tenho ciúmes de tudo cuja beleza não morre. Tenho ciúmes do retrato que você pintou de mim. Por que eu deveria guardar o que seguramente perderei? Cada momento que passa leva algo de mim, e dá algo a ele. Oh, se pudesse ser o inverso! Se o retrato pudesse mudar, e eu puder sempre ser o que sou agora! Por que você o pintou? Ele zombará de mim, em algum dia – zombará terrivelmente!” (WILDE, 2009, p.51-52).
Nesta cena, na qual ele faz o seu desejo, “se o retrato pudesse mudar, e eu puder sempre ser o que sou agora!" (WILDE, 2009, p.52), Dorian não repudia a moralidade, mas a mortalidade. Por ter seu desejo atendido, Dorian conserva-se tanto das destruições advindas da idade e das conseqüências advindas da experiência: rugas, cabelos brancos, flacidez da carne, etc. são transferidos para o retrato como as mais fieis expressões de crueldade, insensibilidade e corrupção moral. O retrato torna-se real, torna-se Dorian, fisicamente falando, enquanto o Príncipe Encantado torna-se a imagem passada para a sociedade.
O fato de matar Basil é bem interessante. Ele não mata Basil, apenas por matar, mas com o intuito de matar uma pessoa que se atreve a querer-lhe como um homem ao invés de uma imagem. Ambas são tentativas de romper o vínculo entre o “eu” ideal e o seu “eu” real. Ele rejeita Sybil quando ela prefere o Dorian real ao Príncipe Encantado, e ele mata Basil quando o pintor fala o seu desejo de tê-lo não como uma pintura do quadro. E por não suportar ser visto como algo diferente de "um retrato gracioso", eis que surge a cena final de homicídio-suicídio: Dorian esfaqueia o retrato com a mesma faca que matara Basil, na tentativa de expurgar todas as lembranças de si mesmo como um ser físico e pintado, amarrado a uma sórdida história de violência.
QUEM É VOCÊ? EU SOU ALICE!
Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, é um conto de fadas sobre uma menina que tenta encontrar seu caminho em um mundo povoado por adultos grotesco, ilógico, infantil. O filme homônimo de Tim Burton impõe não uma, mas várias crises de identidade. O longa-metragem começa com Alice, os seis anos – a mesma idade da Alice de Carroll –, incomodada por pesadelos de um estranho reino subterrâneo, e precisando da confiança paterna antes de dormir.
Pai: Novamente o pesadelo?
(Alice confirma com a cabeça.)
Alice: Eu caí em um buraco negro. Então vi criaturas estranhas.
Pai: Que espécie de criaturas?
Alice: É um pássaro Dodô, um coelho vestindo um colete e um gato soridente.
Pai: Eu não sabia que os gatos podiam sorrir.
Alice: Nem eu achava. E também uma lagarta azul.
Pai: Uma lagarta azul?
Alice: Você acha que estou ficando louca?
(O pai de Alice põe sua mão sobre a testa da filha, averiguando se a mesma está febril.)
Pai: Receio que sim. Você está louca. Maluca da cabeça. Mas vou contar-lhe um segredo: as melhores pessoas são assim.
Até este ponto, Alice não parece ter a idade que tem. Sonha com coisas consideradas absurdas, e ao pai questiona sua própria sanidade mental. Treze anos mais tarde, Alice está sendo empurrada para um noivado arranjado por sua mãe viúva. Na recepção no jardim do noivo, ela fica sabendo que vai ser pedida em casamento. Em uma conversa com sua irmã, Alice entra em uma nova crise de identidade.
Alice: Todos sabem?
Irmã: É por isso que vieram. Esta é sua festa de noivado. Hamish vai pedir sua mão, no momento certo. E quando você disser “sim”...
Alice: Não sei se eu quero me casar com ele.
Irmã: Então com quem queres? Você não vai encontrar um marido melhor do que um Lorde. Você tem quase vinte anos, Alice. Não vai ter essa cara bonita para sempre.
Aqui Alice depara-se no seu momento “Dorian Gray”. A identidade momentânea é de uma moça na idade de se casar. È assim que a sociedade vitoriana regia. Alice não se dá conta desse momento, ainda não assumira essa identidade imposta por aquela sociedade, e sua irmã a alerta que sua idade já “chegara”, e que não teria aquela beleza juvenil pela eternidade. A irmã de Alice é lorde Henry de Dorian Gray: ambos acreditam que o tempo não é o melhor aliado da beleza e juventude.
Hamish: Alice Kingsley... Quer ser minha esposa?
Alice: Bem... Todos esperam que eu aceite... E você é um lorde. Minha beleza não é eterna... E eu não quero acabar como... Mas está acontecendo tudo tão rápido! Eu acho que... Me dêem licença!
O jovem aristocrata pede a mão de Alice, e, como dito anteriormente, ela não estava preparada. No seu discurso, Alice mostra-se ciente da identidade que todos esperam que incorpore e de que sua beleza não será sempre a mesma. Ela protesta e foge deixando todos na expectativa de sua resposta. Alice segue o coelho, cai no buraco e chega ao País das Maravilhas. Dentro de um mundo cheio de seres bizarros – dragões como insetos, vegetação exótica, gárgulas, etc. – a doce Alice se depara com um grupo, também exótico, de criaturas falantes reunidas: As Rosas falantes, o Coelho Branco, a ratinha Melly, o pássaro Dodô e os gêmeos de cabeças e corpos arredondados Tweedledee e Tweedledum.
Coelho: Eu disse que ela era a Alice certa.
Rata: Eu não estou convencida.
[...]
Rosa: Esta não parece nada com a que eu vi.
Rata: Isso porque esta é a Alice errada.
Tweedledee: Se fosse, poderia ser.
Tweedledum: Mas não é, é?
[...]
Alice:Como posso ser a Alice errada quando este é o meu sonho?
[...]
Dodô: Devemos consultar Absolum.
Rosa: Exatamente, Absolum saberá quem ela é.
Todos partem em direção a Absolum, a lagarta azul. Absolum, como do próprio nome deduz-se e segundo o Coelho Branco, “é sábio, absoluto”. Ele sabe de tudo e de todos, ele deveria então saber que é Alice. E no encontro:
Absolum: Quem é você?
Alice: Absolum?
Absolum: Você não é Absolum, eu sou Absolum. A pergunta é: Quem é você?
Alice: Alice.
Absolum: Vamos ver.
Alice: O que você quer dizer com isso? Eu teria que saber quem eu sou.
Absolum: Claro que você deveria, sua menina burra! Desenrole o Oráculo.
Coelho: O Oráculo é um calendário dos tempos do nosso país.
Absolum: [...] Trata-se nele de cada dia desde o início.
[...]
Absolum: Mostre-a o dia Frabjous.
Tweedledee: Sim, o dia Frabjous é o dia em que você tem que matar o monstro Jabberwocky.
Alice: Como é? Matar o quê?
Tweedledum: Oh, é! Olhe você aí com a Espada Vorpal!
Tweedledee: E não há como matar o Jabberwocky sem a Espada!
Alice: Essa não sou eu!
Rata: Eu sei!
Coelho: Resolva o nosso problema, Absolum. Ela é a Alice certa?
Absolum: Dificilmente não.
Rata: Eu disse!
[...]
Rosa: Impostora! Fingindo ser a Alice. Deveria se envergonhar!
Coelho: Eu estava tão seguro de que era você.
Alice: Desculpe. Eu não pretendia ser a Alice errada.
[...]
Gato: Como você se chama?
Alice: Alice.
Gato: A Alice?!
Alice: Já houve discussões sobre isso.
À Alice é posto em dúvida sua veracidade existencial. Dizem toda vez que ela não é "a Alice certa". Alice tem uma acentuada falta de personalidade em primeiro lugar. Ela fica atribuindo suas experiências a um sonho ruim. Um pergaminho prevendo o futuro com seu nome como “o campeão” que vai derrotar o dragão da Rainha Vermelha, Jabberwocky, a faz pirar, pois a mesma não se enxerga nessa identidade imposta pelo Oráculo. O encontro posterior com o Chapeleiro Maluco e com a Lebre de Março não e diferente. O chapeleiro nota a diferença da Alice de antes com a de agora, e assim afirma: "Você perdeu sua “muitisse".
Alice finalmente acha sua identidade, ou pelo menos encontra uma e se apodera dela. Ela deixa de ser guiada, influenciada e decidida pelos outros e passa a tomar suas próprias decisões. E no filme isso fica claro em dois momentos distintos: Primeiro, na conversa que tem com o cão de caça Bayard, Alice deixa de ser menina e passa a ser mulher: toma suas próprias decisões não mais sendo guiada por influências externas, como as crianças geralmente são:
Alice: Qual seu nome?
Cão: Bayard.
Alice: Sente.
Cão: De alguma forma seu nome seria Alice?
Alice: Sim, mas não aquela de quem todos falam.
Cão: O chapeleiro não se entregaria por qualquer Alice.
Alice: Para onde o levaram?
Cão: Para o Castelo da Rainha Vermelha, em
Alice: Vou resgatá-lo.
Cão: Nem mais um passo.
Alice: Não importa! Não ficarei parada aqui.
Cão: O Dia Frabjous está próximo. Temos que prepará-la para seu encontro com o Jabberwocky.
Alice: Desde que eu caí no buraco do coelho, foi-me dito o que fazer e o que ser. Eu fui encolhida, esticada, machucada e ainda fui posta dentro de um bule. Fui acusada de ser a Alice e de não ser também, mas este é o meu sonho! Eu vou decidir para onde devo ir!
E depois, no seu último encontro com Absolum:
Absolum: Ninguém faz nada chorando.
Alice: Absolum? Por que está de cabeça para baixo?
Absolum: Chega ao fim esta vida.
Alice: Você vai morrer?
Absolum: Transformar
Alice Não vá. Preciso de sua ajuda. Não sei o que fazer.
Absolum: Eu não posso te ajudar se você não sabe quem você é, menina burra.
Alice: Eu não sou burra! Meu nome é Alice! Eu vivo em Londres, tenho uma mãe chamada Helen e uma irmã chamada Margareth. Meu pai foi Charles Kingsley. Ele teve a idéia de uma viagem em volta do mundo e nunca nada o deteve. E eu sou sua filha. Eu sou Alice Kingsley!
Absolum: Alice... Finalmente. Você era bem burra quando esteve aqui na primeira vez. Lembro-me que chamava esse mundo de País das Maravilhas.
Alice: Então não era um sonho. Era uma memória. Este lugar é real. E você é, e o Chapeleiro também.
Absolum: E o Jabberwocky. Lembre-se, a Espada Vorpal… você sabe o que quer. Tudo o que tem que fazer é segurá-la firme. Adeus Alice. Espero poder vê-la em uma outra vida.
Nesse momento, Alice encontra-se triste por todos estarem pressionando-a com seu “destino”. Neste encontro, Absolum está terminando seu casulo. É neste momento Alice se auto-afirma, é nesse momento que ela se identifica como Alice, não a certa nem a erra, apenas a Alice, sua verdadeira identidade. E é ainda nesse momento que Absolum explica a Alice que ela já estivera no País das Maravilhas antes, e de repente a faz chegar a concusão de que o que ela sonhara todo esse tempo era simplesmente memorial de algo que realmente acontecera. Após essa revelação, Alice sente-se preparada para encarar a Rainha Vermelha e o Jabberwocky, e dominando a Espada Vorpal, cumpre o destino traçado pelo Oráculo, cumpre assim o seu destino.
Enfim, o filme Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton, não passa de um milkshake cujos ingredientes são as estórias de Lewis Carroll (Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho) com um toque de criatividade de Burton. No filme, Alice se depara com a importância e a instabilidade da identidade pessoal. Ela é constantemente requisitada para identificar-se pelas criaturas que ela conhece, mas ela mesma acaba tendo dúvidas sobre sua identidade. Depois de cair pelo buraco do coelho, Alice testa seus conhecimentos para determinar se ela se tornou outra menina. Entre outras coisas, a dúvida sobre sua identidade é alimentada pela sua aparência física. Alice cresce e encolhe várias vezes, que ela considera "muito confuso. O Gato Chershire indaga outro aspecto da identidade de Alice. Ele não está questionando o seu nome, está questionando a sua sanidade. Uma vez que entra no País das Maravilhas, belisca-se e percebe que não está sonhando, Alice começa a acreditar que está louca. Apesar de Alice chegar ao País das Maravilhas segura de si mesma, sua identidade é sempre questionada. Mas no final de tudo, ela se “encontra”, assume então uma identidade que ela mesma quer.
METODOLOGIA
A principal motivação para a realização do trabalho cujas conclusões deram origem a este artigo surgiu da constatação de que há um processo de produção de multi-identidades, ocasionando multi-crises intra/interpessoal, e que podem ser observados não só mundo real, mas também no mundo literário. Antes de concluir o texto, este trabalho foi desenvolvido pela leitura atenta dos textos teóricos, através dos quais análises posteriores foram fundadas.
Este trabalho teve, portanto, um estilo analítico, já que se debruçou sobre diferentes estruturas literárias (romance, conto, filme), confrontando-as com a produção maciça do estereótipo da formação de identidade(s) e sua(s) crise(s). Seguindo os pressupostos de Identidade, crise e formação do sujeito de Stuart Hall, Erik Erikson e Carlos Rodrigues Brandão é que este trabalho avalia o entendimento do(s) conceito(s) de identidade(s), nas obras de Machado de Assis e Oscar Wilde, bem como no filme Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Conflito Cultural, ou seja, o choque entre culturas e/ou de uma mesma cultura de maneira intertemporal, deve ter algum tipo de efeito sobre o indivíduo que está enfrentando tal conflito. Estes efeitos podem ser variados, alguns dos quais não podem ser medidos ou observados. Um dos efeitos desse tipo de conflito poderia ser sobre a identidade do indivíduo.
Nos últimos estágios de sua existência, Dorian odeia tanto o que ele era quanto o que se tornara. Ao mesmo tempo, ele abomina seu retrato decadente, que impiedosamente lhe mostra o caminho de toda a carne. Jacobina, por sua vez, odeia o que ele é, o alferes da Guarda Nacional, e busca ser e mostrar-se imutável, aquele Joãozinho de família humilde, como era chamado quando mais jovem. Já Alice, é a única das três personagens que, sofre grande impacto com sua crise de identidade, quando duvida ser e não ser as duas metades da laranja, como sugere Jung. É a única que escolhe ser quem acredita que é e quem acreditam que seja, sendo a prova viva do equilíbrio dos eus.
A identidade é baseada em várias séries de identificações em que a cultura e o patrimônio cultural desempenham um papel muito importante. Se um indivíduo nega a sua cultura ou a certeza de seu compromisso com a sua cultura, se ele nega quem é, quem foi e quem será, então ele provavelmente também questiona a sua identidade pessoal. A alternativa é desenvolver uma pseudo-identidade! É, portanto, seguro concluir que o conflito de cultura afeta a identidade básica de um indivíduo, deixando-o em crise de identidade, mas é seguro assegurar também que a crise de identidade é de fundamental importância para a formação de um sujeito, seja ele sociológico e/ou pós-moderno.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, A. e MURCHO, D (org.). Dicionário Escolar de Filosofia. ed. online. Lisboa: Plátano Editora, 2009. Disponível em:< http://www.defnarede.com/ > Acesso em: 23 ago. 2010.
ASSIS, Joaquim Maria Machado de. O Espelho. In: ______. Contos – Machado de Assis. 5ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009, pp. 19-30.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Identidade e etnia. São Paulo: Brasiliense, 1986.
ERIKSON, Erik H. Identidade, Juventude e Crise. Tradução de Álvaro Cabral – 2ed. – Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro – 11ed. – Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
JUNG, C. G. Psicologia e Religião. 6ed – Petrópolis: Vozes, 1999.
QUILICI, Mário. Narcisismo. Disponível em: http://br.geocities.com/psipoint/arquivo_narcisismonarcisismo.htm. Acessado em 23 ago. 2010.
VASCONCELLOS, Paulo Sérgio de. Mitos Gregos. São Paulo: Objetivo, 1998.
WILDE, Oscar. O Retrato de Dorian Gray. Tradução de Marcella Furtado – 5ed – São Paulo: Landmark, 2009.